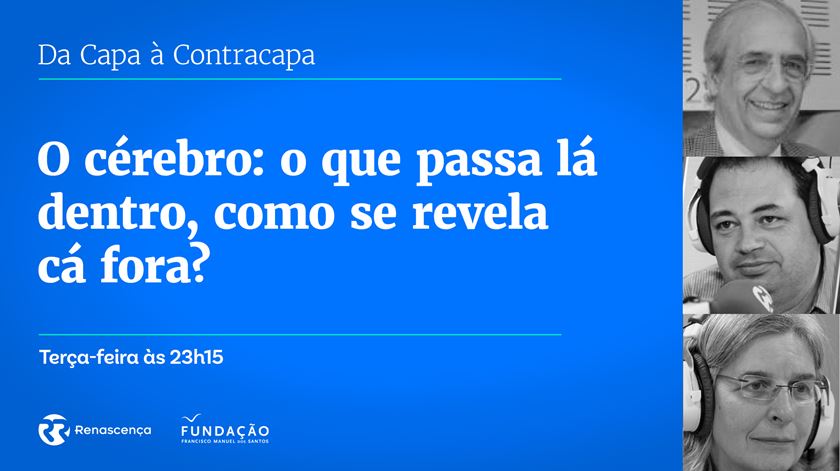Covid-19
Digital e pós-pandémico. "Deixar a escrita à mão vai fazer desaparecer uma área do nosso cérebro"
24 nov, 2021 - 18:32 • José Pedro Frazão
O neurologista Alexandre Castro Caldas e a psicóloga social Maria Luisa Lima refletem na Renascença sobre os impactos da pandemia e da aceleração digital no que se passa dentro da nossa cabeça e na relação com os outros. Um tempo de grandes incertezas em todas as idades onde a ciência ainda não tem respostas consistentes para as perguntas que os últimos dois anos levantam.
Veja também:
- Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo
- Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19
- Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas
- Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números
Algumas coisas já lá estavam, outras vieram com a pandemia. Se a digitalização era processo já em curso adiantado, os confinamentos e restrições provocados pela situação pandémica trouxeram novos desafios ao cérebro. A doença está longe de ser conhecida na sua extensão, mas já é possível descrever alguns impactos no sistema nervoso, ainda que sem mecanismos totalmente decifrados pela ciência e pela medicina.
"Quase todas as pessoas [que passam por COVID] sentem-se muito mais fatigadas. Isso pode ter a ver com um sistema imunológico que foi atingido e não apenas o sistema nervoso central. Outros défices podem situar-se ao nível motor e movimentos finos que poderão eventualmente ficar prejudicados. É difícil dizer se [as perturbações da] memória têm a ver diretamente com infeção viral ou é consequência do próprio medo que se criou", descreve o neurologista Alexandre Castro Caldas no programa "Da Capa à Contracapa" da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Uma das principais sequelas da doença é a perda de olfato e paladar, cuja recuperação é mais lenta em comparação com outros sintomas da infeção. Castro Caldas esclarece que o problema não está exatamente no cérebro, mas nos danos causados nas células do olfato situadas em zonas de entrada do vírus no organismo.
"A informação referente ao olfato não progride dentro da caixa craniana e não chega ao cérebro. No ciclo da doença, a certa altura, o vírus não permanece mais dentro do sistema nervoso, desaparece das células e acaba a doença. Ficam as células que têm que ser renovadas e esse processo de regeneração neuronal não é imediato. É lento. As pessoas têm que ter esperança, paciência e resiliência para que venham outra vez a gostar de cheirar uns bons petiscos", esclarece o diretor do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa.
O poder do medo
O medo potenciou reações psicológicas que se manifestaram ao longo da pandemia nas relações interpessoais. Castro Caldas fala na disseminação de um "medo de um risco invisível" que se desenvolveu em muitas pessoas levando a um "aumento enorme de fobias e com delírio persecutório". o neurologista sustenta que este "medo não explicado" causou fortes danos em idades mais avançadas.
"No envelhecimento, o isolamento das pessoas de idade foi assustador. E nas pessoas que estavam em estádios iniciais de alguma deterioração, foi catastrófico. Acelerou as patologias existentes por falta de compreensão sobre o que estava a acontecer", revela este investigador em neurociências.
Apesar de tudo, emergiram algumas redes. A psicóloga social Maria Luísa Lima diz que, com todos os riscos conhecidos, o recurso a meios digitais de conversação, incluindo redes sociais, acabou por ajudar aqueles que mais isolamento sentiram.
"A investigação é também muito clara a mostrar que as pessoas, durante os períodos de confinamento, mantiveram uma boa integração social e muitas delas fizeram-no através das redes sociais. Permitiam que as pessoas mantivessem uma proximidade psicológica apesar do distanciamento físico. Isso fez com que os níveis de sofrimento psicológico fossem mais baixos, o que é diferente de uma situação de doença", argumenta a catedrática do ISCTE-IUL.
Os recuos da aceleração digital
Alexandre Castro Caldas admite que também os adolescentes sofreram com a pandemia e os impactos vieram para ficar. "A adolescência por Facebook é uma catástrofe", afirma com veemência, chamando a atenção para os danos causados por um crescimento sem a experiência de "confronto e comparação" com os outros.
"Em termos neuronais, a adolescência é um período muito importante de rearranjo cerebral, sobretudo do lóbulo frontal. Os processos de inibição e excitação são equilibrados. O que é terrível no sistema nervoso é que existem janelas de oportunidade para as coisas e que têm a ver com a idade. Ou acontece na idade própria ou, se acontece mais tarde, já não acontece da mesma maneira. E depois dificilmente se regressa", alerta Castro Caldas, cético em relação ao papel de alguma tecnologia no crescimento equilibrado dos jovens nesta faixa etária.
Da Capa à Contracapa
Cérebro: o que se passa lá dentro e como se revela cá fora?
Neste programa, falamos dos nossos cérebros e comp(...)
O neurologista diz que "até os investigadores de Silicon Valley" já não insistem em ensino demasiado tecnológico para os seus filhos, insistindo em métodos tradicionais de aprendizagem, sem tablets, com livros e escrita em papel. Apesar reconhecer alguns perigos, Maria Luísa Lima tem dúvidas que a digitalização acelerada retire a criatividade e capacidade inventiva às crianças.
Alexandre Castro Caldas prevê o fim a médio prazo da escrita à mão. "Só talvez os chineses, que estão empenhados em desenhar muito bem e têm o espírito do desenho da letra, vão continuar a escrever à mão", admite o médico neurologista que não tem dúvidas sobre o impacto dessa mudança no cérebro humano.
"No nosso cérebro, temos uma área específica para a escrita à mão. Se há uma tarefa que é muito repetida e utilizada, o cérebro cria uma zona específica para ser trabalhada da forma mais económica possível. Quando fiz estudos com imagens cerebrais de pessoas que aprenderam a ler depois dos 50 anos, concluí que usavam áreas completamente diferentes daquelas que se utilizariam se tivessem aprendido a ler na idade própria. Essas áreas vão desaparecer no nosso cérebro", acrescenta o médico que dirigiu o serviço de neurologia do Hospital de Santa Maria e foi catedrático da disciplina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
Rostos e perceções em pandemia
Maria Luisa Lima diz-se curiosa com os impactos das máscaras na forma como as crianças percecionam os rostos dos adultos e as expressões faciais de empatia. Alexandre Castro Caldas responde que os olhos são dominantes na leitura que as crianças fazem das faces adultas.
"A criança consegue reconhecer os olhos da mãe nove horas depois de nascer. Nas culturas onde as pessoas andam de cara tapada, apesar de tudo há relação no domínio das emoções. Podem não ser exatamente iguais às nossas, mas é possível", argumenta o neurologista.
Noutras sociedades, a oposição às vacinas e de medidas de restrição tem sido fonte de distúrbios e violência. Luisa Lima, professora catedrática de Psicologia Social, recupera estudos que colocam os comportamentos no plano dos valores face à ciência e à política.
"As questões da literacia científica não eram tão importantes como as questões da confiança. Encontrámos muitas pessoas anti vacinas, com muita ou pouca literacia. O que era mais preditivo era exatamente o nível de confiança na ciência e na política. É uma posição construída a partir de outras convicções que as pessoas têm", afirma a professora do ISCTE.